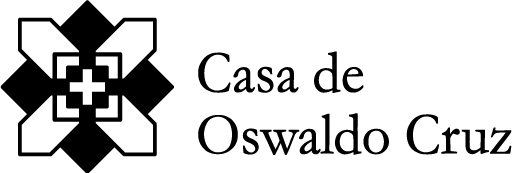Em 1960, o vírus causador da febre Oropouche foi encontrado em amostras de sangue extraídas de mosquitos e de um bicho-preguiça, capturados às margens da rodovia Belém-Brasília. De lá para cá, a enfermidade cruzou as fronteiras dos vilarejos na Amazônia e se espraiou em áreas urbanas, para além da região. Desde 2016, o vírus foi isolado em animais no Rio Grande do Sul, Minas e Bahia, e a arbovirose, transmitida pelo mosquito-pólvora, popular maruim ou borrachudo, já foi diagnosticada em pacientes no Nordeste.
Com cerca de pouco mais de 500 mil notificações oficiais desde então, a febre de Oropouche parece irrelevante aos olhos da pandemia de Sars-CoV-2: o novo coronavírus já infectou 27,4 milhões de pessoas e causou 894 mil mortes, desde sua descoberta em Wuhan, na China, há apenas oito meses.
Mas a síndrome viral descoberta às margens da Belém-Brasília no passado pode ser importante elo no fio que nos conduz até à crise sanitária mundial que hoje enfrentamos, observa o historiador Rômulo de Paula Andrade, pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz.
Em Uma floresta cheia de vírus! Ciência e desenvolvimento nas fronteiras amazônicas, Rômulo parte da febre Oropouche para traçar um panorama das relações entre saúde, política e meio ambiente na Amazônia nos anos 1960. A história do que se passou no período é um alerta para as consequências da intervenção desordenada do homem na natureza. Não é descabido afirmar que uma pandemia como a atual poderia ter se espalhado pelo mundo a partir da Amazônia, onde pesquisas já detectaram dez vírus diferentes em um único animal.
“À medida que a Amazônia for sendo desmatada e se intensifique a atividade humana onde agentes não humanos predominam, é mais do que natural que novos vírus e novas doenças surjam. Por isso que uma das possíveis consequências de desmatamento, de projetos de desenvolvimento mal feitos na região amazônica é o surgimento dessas doenças. Quem sabe aqui no Brasil não pode surgir um vírus como o Sars-Cov-2?”, observa o historiador.

O estudo foi realizado a partir de consulta ao arquivo da Fundação Rockefeller, dos Estados Unidos, e da leitura de pesquisas sobre história da virologia e do desenvolvimento da Amazônia. Rômulo analisa os impactos sanitários de intervenções estatais e instituições científicas durante a chamada Era do Desenvolvimento, nos anos 1950 e 1960. Na época, explica o historiador, os países ricos criaram uma espécie de modelo padrão a ser implementado nos países periféricos.
“Surge, então, a ideia de país subdesenvolvido. E de que bastava que se seguisse uma fórmula de intervenção – no geral dada por grandes projetos de ocupação – na natureza, para que um país se tornasse desenvolvido”, detalha o pesquisador.
Do final da Segunda Guerra Mundial até meados dos anos 1950, especialistas internacionais acreditavam que o caminho do desenvolvimento das nações pobres passava, primeiro, pela erradicação das doenças. Para isso, eram realizadas campanhas com o intuito de combater enfermidades como malária, febre amarela, varíola e bouba. Existia, ainda, a questão ideológica: “Ações na área da saúde visavam frear o avanço do comunismo em países pobres”, escreve no artigo, publicado pela Revista Brasileira de História em dezembro do ano passado.
As políticas de saúde tornaram-se, portanto, uma questão para a Amazônia, principalmente a partir da chegada de projetos que visavam promover o desenvolvimento populacional e a integração econômica da região. Período marcado pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré (1907-1912) nos primeiros anos do século 20, e, depois, com a Marcha para o Oeste, levada a cabo pelo Governo Getúlio Vargas durante a ditadura do Estado Novo (1937-1945).
Ciência legitimou as ações de desenvolvimento
As transformações na região se acentuaram na Segunda Guerra e, mais ainda, no Governo Juscelino Kubitscheck (1956-1961). Em nome do desenvolvimento da Amazônia, imaginou-se uma via de cerca de 2 mil quilômetros para ligar a floresta à nova capital. “Foi muito em decorrência da Belém-Brasília que cheguei ao tema ciência e desenvolvimento”, explica Rômulo.
Segundo ele, projetos que se seguiram na região causaram impactos muito mais graves, testemunhados a partir da construção da rodovia Transamazônica, na década de 1970, e das hidrelétricas, em especial, Belo Monte.
O pesquisador observa que “a ciência da época legitimou e capacitou essas ações”. Existia, então, uma crença de que ela daria o instrumental para que os projetos de desenvolvimento fossem levados a cabo, acrescenta.
Em sua pesquisa, Rômulo identifica um ponto de virada nos discursos sobre as políticas de desenvolvimento traçadas para a Amazônia. Se antes o “atraso” da região era determinado pelo isolamento, a “integração” virou responsável pelas crises sanitárias locais, escreve. Em 1966, surtos epidêmicos causados pelos vírus Oropouche e Mayaro tiravam o sono dos cientistas.

“A integração na região, considerada por muito tempo a salvação, passou a ser um problema. Nos anos 1940, faria a região amazônica crescer. Mas com os grandes projetos de desenvolvimento que viabilizariam a integração por meio da abertura das estradas, vêm as questões sanitárias e sociais. Quando se interfere no ecossistema, com projetos de desenvolvimento faraônicos, como Belo Monte, ou desmatamento ilegal, sabemos quais consequências esperar”, alerta Rômulo, citando o genocídio de povos indígenas na construção da Belém-Brasília e a infestação de malária durante a abertura da Transamazônica.
Em Belém, destaque mundial em virologia
O período estudado por Rômulo coincide com a ascensão da virologia como área de pesquisa. E foi exatamente ali, numa região distante do centro e em um país periférico, que surgiu uma das principais instituições da área no mundo.
Inaugurado em dezembro de 1954, o Laboratório de Vírus de Belém funcionava em associação com a Fundação Rockefeller e atuava em parceria com o Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp). A agência internacional norte-americana aportara em plagas nacionais desde 1916, atuando no combate a ancilostomíase, malária e febre amarela e no ensino de medicina e de enfermagem.
Com a construção de estradas, a demanda no laboratório era intensa. “As doenças se disseminavam e outras novas surgiam. Quando vem Belém-Brasília, em 1958, aí é que o laboratório de vírus explode”, observa Rômulo.
Quem respondeu inicialmente pela instituição foi o casal de pesquisadores americanos Ottis e Calista Causey. Estavam no Brasil desde 1940, atuando no Serviço de Febre Amarela e no Serviço de Malária do Nordeste. Em seu artigo, Rômulo destaca a avaliação de Robert Shope, que dirigiu o laboratório entre 1963 e 1965, sobre o trabalho desenvolvido no laboratório: “Foi uma das maiores buscas de vírus de todos os tempos”.
Ottis Causey era velho conhecido de Hugo Widmann Laemmert (1909-1962), pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz. Trabalharam juntos no Serviço de Febre Amarela. Ambos tinham uma mesma metodologia de caçada aos vírus: após a captura de um animal, análise e reinserção na mata silvestre, ele era novamente trazido ao laboratório, para ter o sangue investigado. E assim fizeram com tamanduás, preguiças, morcegos, ratos do mato e inúmeros outros, considerando a impressionante fauna da região.
Um macaco, dez vírus diferentes
Durante a pesquisa, um mesmo macaco tinha até dez vírus diferentes, relata o historiador da Casa de Oswaldo Cruz. E, em muitos casos, desconhecidos para a ciência da época. Não foi à toa que Shope exclamou, surpreso, que “a floresta estava cheia de vírus”!”, recorda Calista Causey em entrevista ao projeto de história oral Workers in Tropical Medicine.
No período de funcionamento, entre 1954 e 1971, foram isoladas no Laboratório de Vírus de Belém 2 mil cepas de arbovírus, ou seja, transmitidos por insetos e aracnídeos. Além da febre Oropouche, foram detectadas doenças como bussuquara, guaroa, febre Mayaro, encefalite e febre amarela. Quem batia o martelo sobre o ineditismo do vírus era o laboratório central da Fundação Rockefeller, em Nova York.
Quando a agência norte-americana finalizou a associação com o Laboratório de Vírus de Belém, ele foi incorporado ao Instituto Evandro Chagas, que absorveu sua estrutura e equipamentos. Em 1961, o Instituto Oswaldo Cruz também assinou convênio com o Instituto Evandro Chagas, em decorrência do crescimento das arboviroses ao longo da Belém-Brasília.
Modelos de desenvolvimento econômico, com suas alterações ambientais, migrações e processo de urbanização desenfreada, conclui Rômulo, ajudam a explicar o ressurgimento de enfermidades e apontam para os riscos do que encontraremos no futuro. A febre Oropouche nos diz isso. Antes restrita ao campo, na Amazônia, ganhou cidades de outras estados do país, em decorrência da superpopulação de insetos surgida com a derrubada da mata e da plantação de cacau. E isso é mais importante para entendermos a pandemia atual do que discutirmos hábitos alimentares dos chineses.